Por Redação Lumine

E se o cinema pudesse transformar não apenas o que vemos, mas a forma como conduzimos a nossa própria vida? Nesta entrevista exclusiva, Rômulo Cyríaco, pesquisador e autor da obra A Conversão do Olhar, responde essa questão, nos mostrando como a arte é capaz de enriquecer a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos.
Ao longo desta conversa, ele compartilha sua trajetória no cinema, revela filmes que mudaram seu próprio olhar e mostra os bastidores de mais de uma década de pesquisa e escrita. Entre Rossellini e Bresson, estética, fenomenologia e catolicismo, o autor nos convida a enxergar o cinema moderno e a nossa própria fé de maneira completamente nova
1 – Há quem diga que a arte não salva ninguém. Outros vêem no cinema moderno uma espécie de via mística, ainda que laica. Você acredita que o cinema pode ter um papel “salvífico” na vida das pessoas, não só como linguagem, mas como experiência espiritual?
Sem dúvida. O cinematógrafo, por estar indissociavelmente ligado ao tecido visível da realidade, é um meio de criação e potencialmente também de descoberta e conhecimento. Suas imagens podem não apenas nos tornar mais atentos ao mundo real, físico, mas revelar – nos permitir intuir – dimensões invisíveis e aspectos essenciais, morais e espirituais da vida humana inserida no conjunto da Criação. Digo “potencialmente” porque o cinematógrafo é uma máquina, e as imagens que ele capta se prestam aos propósitos mais diversos (e até antagônicos entre si) no processo de montagem. Você pode encadear imagens para construir teses abstratas e panfletos ideológicos, e assim manipular a percepção e a consciência do espectador. Ou pode – como faz o cinema moderno fundado por Roberto Rossellini e Robert Bresson – agenciar o material de modo a aguçar o olhar e libertar a consciência, respeitando o grau de realismo contemplativo que o veículo solicita por sua própria natureza. Disso deriva a necessidade de promover o conhecimento profundo das implicações éticas e metafísicas das diferentes estéticas cinematográficas que existem, que é um dos objetivos do meu trabalho. Ainda mais porque, infelizmente, apenas uma dessas formas é massivamente consumida – a abordagem narrativa, exportada de Hollywood para todo o mundo como fórmula de sucesso – e tende a manter a maior parte dos espectadores em um estado de hipnose, viciada no consumo compulsivo de esquemas repetitivos e fáceis que fornecem a anestesia que o homem contemporâneo precisa para suportar uma vida maquinal e distrair-se do seu próprio vazio. Os cineastas que apresento no livro são precisamente aqueles que melhor perceberam esse problema e, ao redimirem o cinema e redirecioná-lo à sua vocação espiritual, nos legaram em pleno século XX uma fenomenologia da encarnação que costuma exercer sobre os espectadores dedicados um efeito benéfico surpreendente, inclusive sobre sua vida psíquica e espiritual. Então, sim: o cinema pode ter um efeito redentor, mas quando realizado de uma determinada maneira…
2 – “Conversão do olhar” é uma expressão forte. Ela sugere que não se trata apenas de ver filmes de outro jeito, mas de ver o mundo de outro jeito. Como você acredita que o cinema moderno, lido à luz do catolicismo, pode converter o espectador?
Como mostro no livro, toda a teoria do cinema moderno (elaborada em conjunto por teóricos e cineastas) sempre falou em termos que são também centrais no catolicismo e na fenomenologia: “ascese”, “conversão”, “revelação”, “iluminação”, “epifania” etc. Converter o olhar é, portanto, uma busca consciente dessa tradição cinematográfica. Como disse Rossellini, sua estética parte de uma “atitude ética de humildade” perante as pessoas e a realidade, o que significa não impor sobre as coisas filmadas significados e propósitos alheios ao seu ser, mas magnificar a sua própria expressividade para solicitar que, por meio de sua presença, revelem seu sentido profundo. O espectador é convidado ou desafiado, então, a se instalar nessa mesma atitude. Quando o faz, ele se torna apto a intuir as verdades estruturais, gerais ou particulares que são visadas pelos filmes de estética efetivamente fenomenológica. Não apenas eu experimentei isso, pessoalmente, mas muitos alunos vêm entrando em contato comigo – desde que eu comecei a divulgar publicamente o meu trabalho – dizendo coisas como: “os filmes modernos estão curando neuroses que eu tinha”; “com teu trabalho e os filmes modernos eu venho tendo muitas intuições estéticas e também espirituais”; “o cinema moderno está me ajudando também na vida espiritual, e a perceber e vivenciar melhor os momentos simples da vida”. De fato, o realismo fenomenológico – que é um outro nome para o cinema moderno original – nos torna mais presentes diante das coisas… E quanto mais rigorosa e depurada for a sua fenomenologia cinematográfica, mais serão convertidos nosso olhar e nosso coração, mais nossa intuição será apta a perceber o espiritual no corporal, o eterno no temporal, o invisível no visível.
Mas devemos tomar o cuidado de falar não apenas do “cinema moderno lido à luz do catolicismo”, mas também do catolicismo lido à luz do cinema moderno. Pois este pode não apenas propiciar a conversão de um olhar cético ou materialista, como pode também purificar o olhar do crente contra as distorções e as reduções equivocadas que o catolicismo sofre sob tratamentos sentimentalistas, moralistas ou ideológicos. O cinema moderno é uma estética cinematográfica que revela também algo essencial do catolicismo, ou seja, da tradição espiritual, cultural e filosófica que está em sua genética como fonte de inspiração. Não apenas realiza uma fenomenologia da encarnação do espiritual, magnifica a percepção da dignidade da terra que foi pisada por Deus e do corpo humano que foi assumido por Ele, mas evidencia a vocação universal da religião de Cristo, a sua necessária abertura ao outro e ao real, a sua conjugação de fé e razão, o seu ceticismo diante dos falsos deuses e dos ídolos e, sobretudo, a sua liberdade. Foi o que Rossellini percebeu e expressou numa entrevista aos Cahiers du Cinéma: “O que me atrai no catolicismo é que, nele, a liberdade é realmente imensa, total”. Essa liberdade é traída nos tratamentos reducionistas do fenômeno religioso… Foi o que perceberam André Bazin e o padre Amédée Ayfre, teóricos do cinema: o cinema de Rossellini e Bresson, em que Deus está em toda parte e por isso pode passar despercebido por quem não tem olhos para vê-Lo, é mais ortodoxamente católico que os filmes narrativos de tema religioso que representam na imagem, com truques e efeitos especiais espetaculares, fenômenos espirituais ou místicos que, na realidade dos fatos, não puderam ser experimentados por todos no tecido visível do mundo – ao qual o cinematógrafo está ligado – e continuaram marcados pela ambiguidade ou indeterminação estrutural da realidade (criada e mantida por Deus de modo a não retirar a liberdade dos olhares e dos corações). É um cinema, portanto, que direciona o olhar e a razão até um limite em que, para continuar vendo (ou intuindo) o que o filme tenciona mostrar (ou revelar, por meios tácitos), o espectador precisará das virtudes teologais, a começar pela fé… E, precisando, pode acabar por se voltar na direção dela de coração aberto e recebê-la, enquanto por aquele outro tratamento, quem já tem a fé encontra dela uma ilustração, mas quem não a tem tende a recrudescer a sua resistência.
3 – Seu livro afirma que o cinema moderno tem raízes fenomenológicas e católicas profundas (algo que dificilmente se encontra em manuais ou histórias do cinema). Por que essa herança foi esquecida ou silenciada? Houve um esforço deliberado de apagar essa origem?
Isso é algo que eu explico no próprio livro, mais ao fim do Volume II, realizando uma reconstituição histórica das mudanças de perspectiva ocorridas no meio cinematográfico a partir da década de 1960. Antes disso, havia pleno espaço para cineastas e críticos católicos, que chegaram a ocupar o centro, tinham sua voz ouvida e amplificada tanto quanto os mais eloquentes daqueles que se encontravam do outro lado, entre os marxistas e comunistas. Havia então verdadeiro debate e pluralidade de perspectivas e ideias, e quem apresentava as melhores obtinha, com justiça, a primazia: foi o que ocorreu com Rossellini, Bresson e Bazin, por exemplo, cuja centralidade na fundação e teorização do cinema moderno ninguém nega nem poderia negar. A partir de 1960, no entanto, com as revoluções culturais e comportamentais, instalou-se uma hegemonia sufocante do lado revolucionário e anticristão do espectro, a qual relativizou as conquistas conceituais e estéticas dos cineastas e teóricos católicos e amplificou o relativismo, o ecletismo e o desconstrucionismo. Propagou-se demais a ideia equivocada de que o cinema, como toda arte, teria necessariamente que ter uma função política e revolucionária, de transgressão e questionamento de todo tipo de padrão formal e moral. O meio cinematográfico se tornou refratário às tradições humanas, espirituais e filosóficas que se encontram na base do cinema moderno original, e foi também isso que gerou o vergonhoso equívoco da teoria do cinema posterior de tratar sob o nome de “cinema moderno” tanto aquele, fenomenológico e espiritual, inaugurado por Rossellini e Bresson – ou seja, aquele que crê que o cinema é capaz de revelar verdades essenciais – e aquele, desconstrucionista, inaugurado por Godard e Resnais na França e pelas segundas fases de Fellini, Pasolini e Antonioni na Itália sessentista, para o qual a própria noção de “verdade” deve ser posta abaixo. Uma correção definitiva desse equívoco, com uma nova taxonomia e definição das abordagens cinematográficas, é também uma das contribuições originais do meu livro (A Conversão do Olhar) à teoria do cinema, além do trabalho de resgatar e trazer à tona as impressionantes e abundantes evidências da raiz católica que está na gênese do cinema moderno.
4 – Você passou mais de uma década pesquisando e escrevendo A Conversão do Olhar. O que te moveu, intimamente, a persistir nesse projeto? Foi uma inquietação intelectual ou algo mais pessoal?
Foram as duas coisas. Minha conversão ao catolicismo em 2015 abriu o meu olhar para a dimensão cristã das obras de Rossellini e Bresson, que já se encontravam entre os meus cineastas preferidos há muitos anos, e me possibilitou acolher intuições que, caso fossem confirmadas pela pesquisa que eu iniciava, eram fundamentais demais para uma compreensão completa do cinema moderno – em sua gênese, em seus princípios, meios e fins – para serem ignoradas ou para não serem elaboradas e divulgadas. Mais do que isso, essas intuições iluminavam verdades não apenas do cinema, mas da própria estrutura da realidade da existência, da condição humana e da experiência da fé, da relação do homem com Deus, das tensões entre o corpo e o espírito, entre a história e a eternidade, entre a cidade dos homens e a cidade de Deus… Creio que o leitor de A Conversão do Olhar notará que toda a exposição que eu faço tocará não apenas o seu intelecto, no sentido de um “conhecimento sobre o cinema”, mas a sua própria vida, no sentido de um conhecimento vital, que se incorpora ao ser. Uma das características do trabalho dos cineastas que eu privilegio é precisamente esta: a não separação entre obra e vida, pois estiveram sempre totalmente implicados, existencialmente, no seu fazer artístico, o qual era marcado por uma indissociabilidade entre estilo, postura moral e busca pela verdade. Havia algo de essencial em jogo que ultrapassava o domínio circunscrito da arte e da própria vida individual do autor. Não foi nunca uma brincadeira, um passatempo estilístico, ou uma busca gratuita por efeitos. É o que levava Rossellini a dizer, muitas vezes, que sua ambição não era a de ser um “artista”, mas a de ser um “homem”, sendo ele absolutamente contrário à fetichização da arte e da figura do artista. E creio que esses aspectos se refletem, naturalmente, no meu próprio trabalho, e se refletirão na experiência do leitor.
5 – Existe um filme, uma cena, um momento que tenha sido para você uma “conversão do olhar”, ou seja, aquele ponto de virada em que você passou a enxergar o cinema com outros olhos?
Minha resposta é a mesma de Éric Rohmer, o grande cineasta católico francês, que escreveu nos anos 50 nos Cahiers du Cinéma, após assistir Stromboli (1950), de Rossellini: “No meio do filme eu estava convertido, eu tinha mudado de ótica”. Antes mesmo dos filmes de Bresson, como Diário de um Pároco de Aldeia, A Grande Testemunha e O Dinheiro, foram todos os grandes filmes de Rossellini com Ingrid Bergman como protagonista – Stromboli, Europa 51 e Viagem à Itália – que me provocaram pela primeira vez a percepção de que o cinema tem poderes que vão muito além do mero efeito ou da mera retórica, e que podem chegar de fato à revelação de verdades essenciais por meio de espécies de iluminações ou epifanias que são como o resultado místico de um processo ascético – a “ascese do estilo”, tão comentada, que está na base da estética paradoxal criada complementarmente pelo diretor de Roma, Cidade Aberta e pelo diretor de Um Condenado à Morte Escapou. Como isso ocorre, com que meios isso é feito, é o que o leitor compreenderá logo no Volume I de A Conversão do Olhar.
6 – Todo autor lida com impasses durante a escrita: simplificar demais, agradar certos públicos, ou seguir caminhos mais fáceis. Nesse sentido, qual foi a sua maior tentação e como você se manteve fiel ao que queria realizar?
Em diversos momentos, durante a escrita, eu me encontrei meditando não apenas sobre as obras dos cineastas modernos que apresento, mas também sobre o caráter de Rossellini, De Sica, Visconti, Bresson, Rohmer, Rivette, Oliveira, Olmi, Zurlini, Wajda, Zanussi… Eles só fizeram o que fizeram, e como fizeram, por terem um determinado temperamento, por serem homens de uma integridade admirável, de uma cultura arraigada (enraizada no passado longínquo da Europa) que amaram e defenderam, com uma convicção plena de que, como repetia Rossellini, “o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado”. Ou seja: de que a cultura e a civilização deveriam continuar a se adaptar às necessidades essenciais – morais e espirituais – do ser humano, e não o contrário, como tende a ocorrer na nova civilização da máquina, da técnica e da obsessão com a eficácia produtiva. Sem medir consequências, eles se recusaram a fazer concessões corruptivas à grande indústria cinematográfica e ao espetáculo – devotado ao entretenimento vazio e à evasão – para obter mais aplausos e sucesso a todo custo. Essa sua integridade é perceptível e quase palpável em suas obras, e foi mesmo pré-condição para que fossem capazes de realizar os monumentos artísticos e humanos que nos legaram. Cineastas com menos substância e espessura moral, quando tentam realizar uma estética parecida, erram o alvo ou ficam pelo meio do caminho. Meditar sobre isso me ajudou, no processo, a me manter fiel à visão original e integral do que eu queria e precisava realizar, entendendo que era necessário não só falar sobre esses homens, mas ser também como eles, ou pelo menos evitar todo tipo de atitude que traísse o espírito ou o caráter deles e de sua obra.
7 – Este livro é o primeiro de uma nova etapa da Lumine, e talvez o início de uma nova abordagem do cinema no Brasil. O que você gostaria que ele deixasse como legado, não apenas na cultura, mas nas pessoas?
Gostaria que o efeito produzido pelo livro fosse aquele visualizado logo no início de sua concepção, quando eu pensava nos meus dois públicos. De um lado, que os estudiosos mais sérios do cinema, que ainda priorizam a verdade e não os imperativos políticos e ideológicos mais típicos do meio, olhem de frente – com honestidade científica – as evidências incontornáveis que apresento dos fundamentos católicos do cinema moderno, e estas informações passem a ser moeda corrente na pesquisa cinematográfica. Do outro, que os católicos interessados em cultura, arte e cinema se abram ao conhecimento e à experiência de uma abordagem cinematográfica cujas raízes católicas também eles tendem a ignorar, por preferirem a segurança dos filmes narrativos de tema cristão, edificantes no plano moral, mas formal ou esteticamente irrelevantes, com baixíssimo ou nenhum grau de pessoalidade na expressão, muitas vezes nulos como experimentação artística. Que os católicos estudiosos levem mais em consideração as questões da forma na arte, percebendo que os valores estéticos afetam os valores religiosos de um filme, podendo purificá-los ou corrompê-los, e que os temas católicos que lhes são queridos – assim como a aplicação panfletária ao cinema de suas preferências políticas, por mais justas que sejam – não tornam um filme automaticamente um bom filme… Que se tornem capazes de perceber e experimentar a superioridade ao mesmo tempo artística e religiosa dos grandes filmes modernos de tema católico como Os Anjos do Pecado (1943), Céu sobre o Pântano (1949), Francisco, Arauto de Deus (1950), Diário de um Pároco de Aldeia (1951), Sob o Sol de Satã (1987), Cammina, Cammina (1983), Joana, a Donzela (1994) e Joana d’Arc (2019), bem como da imensa lista de filmes que eu apresento e analiso no livro que não são propriamente de tema religioso, mas que emanam uma sensibilidade católica – e, além disso, exibem diversos signos cristãos que confirmam a sua fonte de inspiração – e que estão entre as obras mais elevadas já produzidas pela arte cinematográfica, como A Marquesa d’O. (1976), A Árvore dos Tamancos (1978) e A Carta (1999).
8 – Agora ocupando a cadeira de espectador, e não de crítico, quais são os filmes subestimados pelos cinéfilos que têm seu coração?
Seria mais fácil dizer os muitos filmes superestimados pelos cinéfilos que, a meu ver, possuem valor relativo ou nenhum valor. Mas há, sim, filmes que tendem a receber pouca atenção e que estão naquela lista mais seleta de filmes que não apenas considero objetivamente grandes, mas que revejo frequentemente porque me ensinam a viver, a olhar, a sentir, a pensar, atualizando em mim as atitudes, os valores e as experiências que tenho como essenciais. Para citar apenas alguns: Marius (1931), Fanny (1932) e César (1936), que constituem a Trilogia Marselhesa de Marcel Pagnol. A Mulher do Padeiro (1938), do mesmo diretor. As adaptações que Yves Robert fez de dois dos livros autobiográficos de Pagnol, A Glória do Meu Pai (1990) e O Castelo da Minha Mãe (1990), filmes que só não arrancam lágrimas de quem não tem coração. Os três filmes que Philippe Garrel realizou entre 1989 e 1996, a sua fase de maior inspiração e de maior rigor: Beijos de Emergência (1989), Já Não Ouço a Guitarra (1991) e Coração Fantasma (1996), estando este último, para mim, entre os melhores e mais brilhantes filmes de todos os tempos. Vida de Família (1985), de Jacques Doillon. O Jogo de Mignon (1988) e Campo das Ilusões (1993), da italiana Francesca Archibugi. A Missa Acabou (1985), de Nanni Moretti. Que horas são (1989), de Ettore Scola, Adeus, Lar Doce Lar (1999) e Segunda de Manhã (2002), de Otar Iosseliani, especialmente, são filmes que eu gostaria de levar debaixo do braço para toda parte e de certa forma levo, estão entre meus filmes de cabeceira. São espécies de manifestos de como encarar e viver a vida, e ao mesmo tempo o avesso de todo manifesto, pois são filmes desprovidos de toda e qualquer militância, de toda e qualquer neurose, transbordando tolerância pelo ser humano como ele é, repletos de um amor despreocupado pela vida como ela é. Há outros filmes que levo assim, como A Bela Intrigante (1991) de Rivette, Caro Diário (1993) de Moretti, Vale Abraão (1993) de Oliveira, Gosto de Cereja (1997) de Kiarostami, Bom Trabalho (1999) de Denis, mas, pelo menos entre os cinéfilos mais bem orientados, creio que já receberam um pouco mais a devida atenção.
9 – Qual conselho você daria para quem quer começar a ver bons filmes com mais frequência, mas acaba se entediando com os clássicos do cinema?
Diante dos filmes do cinema moderno, a partir do neorrealismo italiano de Rossellini, De Sica e Visconti, não é normal que haja qualquer nível de tédio, na medida em que esses filmes engajam não apenas o sentimento e o intelecto do espectador, mas todas as suas faculdades e todo o seu ser, afetando-o quase como uma experiência de vida. Só pode haver tédio, aí, para o espectador que já está condicionado ou viciado pelas facilidades enganosas do cinema narrativo, por exemplo, que pega a pessoa pela mão e solicita que ela se desligue e se deixe levar pelo diretor, com este fazendo todo o trabalho por ela e como que dizendo: “agora, olhe pra isto”, “agora, pense isto”; “agora, faça esta associação de ideias”; “agora, sinta aquilo”, e assim por diante. De tanto ser manipulado, mas ganhar recompensas excitantes, esse espectador passa a gostar de se submeter ao experimento e a achar tediosa uma outra experiência – mais autêntica, mais genuína – que solicita mais dele, do seu olhar, da sua consciência e da sua liberdade. O espectador que se tornar consciente desse processo ocorrendo em si deve confiar que a outra imagem – não a imagem-clichê, mas a imagem inteira, do cinema moderno – também exige um acúmulo de experiência, referências e parâmetros: é preciso continuar assistindo aos filmes, em imersão, pois uma obra vai iluminando a outra e, ao longo do tempo, o espectador vai compreendendo onde está o sentido e a graça – a imensa graça, o profundo prazer e os incalculáveis benefícios psicológicos, existenciais e espirituais – dessa outra tradição fílmica.
10 – Conte alguma curiosidade, pouco conhecida, sobre os bastidores de um filme famoso.
Minha história de bastidores preferida é aquela do encontro entre Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, o encontro improvável entre o pai do cinema moderno – de uma sensibilidade avessa àquela mais típica do cinema americano – e uma estrela hollywoodiana. Ela assistiu a Roma, Cidade Aberta (1945) e Paisà (1946) e enviou uma carta a ele: “Caro senhor Rossellini, vi seus filmes e gostei muito deles. Se precisar de uma atriz sueca que fale inglês muito bem, não esqueça o alemão, ainda não é muito inteligível em francês e de italiano só sabe ti amo, estou pronta para fazer um filme com o senhor”. Rossellini ficou muito entusiasmado e respondeu com uma longa carta que é um documento histórico importante da gênese do cinema moderno, incluindo já o argumento de Stromboli e informações valiosas sobre o seu processo criativo – “Eu não preparo um roteiro, o qual eu penso que limita terrivelmente o escopo do trabalho” etc. – e sobre sua visão de mundo, criticando o puritanismo e a frieza do protestantismo do norte da Europa, de onde vem a personagem, e fazendo o elogio do catolicismo que marca o espírito italiano: “Até o Deus que o povo adora parece diferente do dela. Como poderia o austero Deus luterano para quem ela rezava, quando era uma criança nas frígidas igrejas de seu país natal possivelmente ser comparado com esses numerosos santos de várias cores de pele?”.
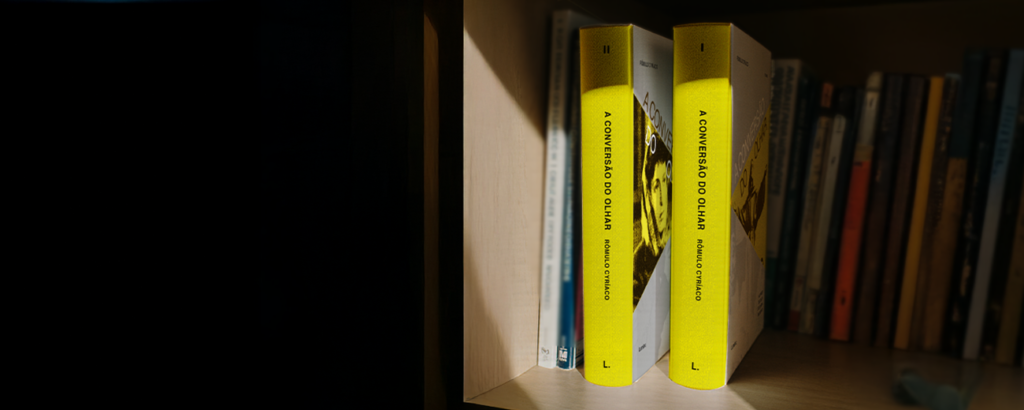
Depois de mergulhar na entrevista com Rômulo Cyríaco e descobrir como o cinema moderno pode transformar não apenas o olhar, mas a sua própria maneira de viver, você tem agora a chance de levar essa experiência ainda mais longe. Esta é a sua última oportunidade de garantir o box A Conversão do Olhar na pré-venda com 20% OFF.
Clique aqui para receber em sua casa a primeira obra brasileira sobre cinema católico, em box colecionável e acabamento premium.




